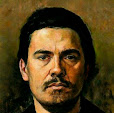“Íamos ao outro extremo da cidade – subindo ao Cruzeiro. Galgávamos o barranco onde terminava a Avenida Afonso Pena e ganhávamos o campo de futebol onde está hoje a Praça Milton Campos (ele, nesse tempo, não praça, não estatua, às vezes conosco). Do pé da torre de alta voltagem e da Cruz de madeira que vinha o apelido de logradouro – olhávamos a cidade. Víamos a Avenida Afonso Pena como a Campos Elíseos de cima dum Arco do Triunfo. Estéril, de moledo solferino e terra escarlate, sem calçamento e com as beiradas escavadas pela erosão das grandes chuvas que faziam sulcos caprichosos como negativos de cordas torcidas”. Pedro Nava em trecho do livro Beira Mar.
Praça Sete de Setembro em 1966 após a retirada do obelisco em comemoração ao centenário da Independência, com a justificativa da melhoria do fluxo viário. No seu lugar se construiu o monumento em homenagem aos fundadores da nova capital, retirado anos mais tarde para a desobstrução da avenida.
Fonte: APCBH/ASCOM
A Avenida Afonso Pena configura-se dentro da zona urbana planejada de Belo Horizonte como a principal via arterial da região central da capital, responsável pelo deslocamento de grande parte do fluxo viário e populacional oriundo dos bairros limítrofes a Avenida do Contorno em direção à região central. Criada para ser a principal via dentro da zona urbana, responsável pela ligação das zonas sul e norte ela apresenta um traçado retilíneo, assim como as demais avenidas planejadas, porém apresenta uma largura de 50 metros, enquanto as outras avenidas foram abertas com 35 metros de largura. Aarão Reis, em seu relatório para a Presidência do Estado em 1895 deu uma posição de destaque à Avenida, como se pode ler abaixo no trecho extraído do livro Memoria Histórica, de Abílio Barreto:
“Apenas a uma das avenidas – que corta a zona urbana de norte a sul, e que é destinada à ligação dos bairros opostos – dei a largura de 50 m, para constitui-la em centro obrigado da cidade e, assim, forçar a população, quanto possivel, a ir se desenvolvendo do centro para a periferia, como convem à economia municipal, à manutenção da higiene sanitaria e ao prosseguimento regular dos trabalhos tecnicos”.
Ao se analisar a planta da nova capital percebe-se que Aarão Reis criou a cidade com duas malhas: as das ruas formando ângulos retos e as avenidas estrategicamente situadas, formando ângulos de 45º interagindo com as ruas¹. Essa interação tem, entre outras características evitar que sejam configuradas ruas em ziguezague, como o antigo Curral del Rey e as cidades surgidas no período colonial, que seguiam os traçados dos primeiros caminhos abertos. A Avenida Afonso Pena foi pensada como um eixo de passagem obrigatório para quem deseja ir de uma ponta a outra na cidade planejada. Observa-se também que a avenida segue cortando as curvas de nível do terreno ligando a parte baixa, na calha do Ribeirão Arrudas a parte alta, na época denominada Morro do Cruzeiro², atual Praça Milton Campos. A Avenida do Contorno apresenta-se como o limite da zona planejada, um “muro imaginário” separando a zona urbana da zona suburbana.
A Avenida Afonso Pena logo após a inauguração da capital, em frente ao Parque Municipal.
Fonte: BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: Memória Histórica e Descritiva Vol.2; FJP, 1997.
Nas duas primeiras décadas de existência da capital mineira a Avenida Afonso e a Rua da Bahia consolidaram-se como o principal espaço de articulação urbana da capital. Eram nessas vias, calçadas somente no final da década de 1900 que se davam o maior fluxo de pessoas e de veiculos, motorizados ou não de Belo Horizonte. Estas vias, mais os trechos compreendidos na Rua da Bahia entre Timbiras e Afonso Pena, Espirito Santo entre Afonso Pena e Avenida do Comércio, Afonso Pena entre as Ruas da Bahia e Espirito Santo, e por toda a Rua dos Caetés abrigavam grande parte das casas comerciais da nova capital e diversas residencias, muitas delas pertencentes aos funcionarios da administração vindos de Ouro Preto.
A avenida, nos seus primeiros anos havia sido aberta desde o antigo Mercado até o cruzamento da Avenida Brasil. A partir daí ela se convertia em um caminho de terra que levava ao antigo Cruzeiro. Posteriormente ela foi estendida até o cruzamento da Avenida Paraúna, bem proxima ao Cruzeiro, ponto final da avenida segundo a Planta de 1895.
Avenida Afonso Pena no centro da Planta de 1895.
Parte do local onde seria construída a nova Matriz, no final da Avenida Afonso Pena (Praça do Cruzeiro).
Avenida Afonso Pena em 1902, aberta até o cruzamento da Avenida Brasil. Abaixo o córrego do Acaba Mundo ainda em seu leito natural.
Fonte: BH Nostalgia
Cruzamento das Avenida Afonso Pena e Amazonas em 1899. Abaixo os trilhos da pequena linha férrea utilizada com o auxilio de tração animal, que partia da Pedreira Prado Lopes e amplamente utilizada para o transporte de materiais destinados à construção dos edifícios da Praça da Liberdade.
Fonte: APCBH Coleção José Góes
Praça Doze de Outubro em 1905. Apenas em 1922 que a Praça formada pelas Avenidas recebeu a denominação atual.
Fonte: APCBH Coleção José Góes
À direita da imagem pode-se ver a Avenida aberta até o cruzamento da Avenida Brasil. Acima ela se convertia em uma pequena trilha que levava ao Cruzeiro.
Fonte: APCBH Coleção José Góes
A Praça do Cruzeiro foi o local escolhido pela CCNC para se edificar a nova Catedral da Boa Viagem, segundo a Planta elaborada por esta Comissão. Esse local, mais precisamente na extremidade sul da Avenida poderia também ser convertido em mirante, por apresentar uma visão privilegiada de grande parte da capital, como se lê no relatório do Prefeito Flavio Fernandes dos Santos em 1923:
“Há muito que fazer nesta parte, mesmo não contando com a abertura de novas ruas ou trechos de ruas, nas zonas urbana e suburbana. Ninguém poderá negar que, ultimadas a Avenida Affonso Penna e a Praça do Cruzeiro, onde já foi executado grande movimento de terra, si não me engano, pela Comissão Construtora da Capital, muito terá a lucrar o bom aspecto da cidade. Para quem viesse visitar Bello Horizonte, desde que o accesso fosse um dos pontos forçados seria aquella praça, a que se poderia dar um aspecto, por sua vez, agradável, dotando-a de um jardim sem arborização espessa para não perturbar a vista”.
*A retomada dos investimentos por parte do Poder Publico na década de 20 permitiu a finalização da Avenida na segunda metade da decada. Em 1927 foi concluída a terraplanagem da Praça do Cruzeiro planejada pela CCNC, mas realizada exatos trinta anos depois de extinta a mesma Comissão no local que deveria ter sido erguida a nova Matriz da Boa Viagem. A terraplanagem removeu o barranco que impedia a finalização da Avenida e a terra removida do local foi utilizada para aterrar o antigo leito do córrego do Acaba Mundo, retificado e canalizado para a Avenida Afonso Pena entre a Rua Professor Morais e o Parque Municipal, obra realizada no mesmo período.
No trecho aberto entre a Praça 21 de Abril (Praça Tiradentes) e a Praça do Cruzeiro (Praça Milton Campos) a avenida se caracterizava pela predominância de casas residenciais, ainda presentes na paisagem urbana. É bom ressaltar que muitas delas já existiam mesmo estando a Avenida ainda inacabada até 1927. A região abaixo da Praça Tiradentes, continuava apresentando uma função mista, com predominância de casas comerciais e edifícios institucionais, concentrados na sua maioria nas proximidades do Parque Municipal. Até a década de 40 ainda existiam muitos sobrados de dois pavimentos, destinados ao uso comercial e residencial. Grande parte dos sobrados da Avenida deu lugar aos edifícios construídos a partir de 1932, pioneiros no processo de verticalização da capital.
Obras de conclusão da Avenida em 1927, até a Praça do Cruzeiro.
Fonte: APM
A Avenida no cruzamento da Avenida Brasil na década de 30. À esquerda o canal do córrego do Acaba Mundo.
Fonte: APM
A Avenida na década de 30, em frente ao Parque Municipal.
Fonte: APM
Panorama da Avenida desde a Feira de Amostras no final da década de 30.
Fonte: APM
No inicio da década de 40, na gestão JK teve inicio o prolongamento da Avenida, com a finalidade da melhoria da comunicação viária entre a capital e a cidade de Nova Lima, e para o Rio de Janeiro. A obra de prolongamento também previa a construção de um túnel na Serra do Curral, obra nunca realizada.
As obras foram interrompidas pouco tempo após o seu inicio, sendo abertos apenas 700 metros. Desde a interrupção do prolongamento da Avenida o local que já havia sido aberto converteu-se em um dos caminhos utilizados pelos moradores das Favelas adjacentes para se chegar a Avenida do Contorno ou aos serviços de transporte publico que existiam no bairro Serra e Anchieta. O barranco criado pela abertura do dito trecho em 1940 foi ocupado por diversos barracos pertencentes a Favela do Pindura Saia.
Prolongamento da Avenida Afonso Pena em 1940. À direita parte da Favela do Pindura Saia e a caixa d'água do Cruzeiro.
Fonte: APCBH Relatório do Prefeito Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1941.
A Avenida em destaque na Planta Cadastral de 1928. Segundo a Planta acima já se cogitava estender a Avenida acima do cruzamento com a Avenida do Contorno até uma Praça, que também se destaca na Planta e que seria construída um pouco acima da caixa d'água do Cruzeiro.
Fonte: APCBH
A Avenida em imagem de Satélite de 1953. Em destaque o prolongamento iniciado em 1940.
Fonte: PANORAMA de Belo Horizonte; Atlas Histórico. Belo Horizonte; FJP. 1997.
A Avenida na década de 50, nas proximidades da Praça Sete.
Fonte: APM
A avenida continuou de acordo com o projeto original da CCNC: dentro dos limites da Avenida do Contorno. O prolongamento de 1940 permaneceu até a década de 60 como uma larga estrada de terra que terminava um pouco acima da caixa d’água do Cruzeiro.
A década de 60, em particular o ano de 1963 foi marcado por uma das mais profundas transformações da paisagem urbana de Belo Horizonte: o corte dos Fícus da Avenida Afonso Pena, com a justificativa da melhoria do fluxo viário na região central e da extinção dos “tripés”, praga que acometia os Fícus desde o final da década de 50. A arborização da Afonso Pena era a marca registrada da capital mineira e o seu desaparecimento da noite para o dia deixou marcas profundas na sociedade, que podem ser vistas até os dias atuais, nas lembranças dos moradores contemporâneos ao corte. A Avenida e suas arvores haviam sobrevivido praticamente intactas as transformações ocorridas no seu entorno durante a primeira metade do Século XX, mas não sobreviveriam ao processo de metropolização que passava a capital nesse período, responsável pelas mudanças na paisagem urbana que também sepultariam os principais cursos d’água da capital, em prol da mobilidade urbana, uma politica vigente até os dias atuais. Nesse período também foi retirado o obelisco da Praça Sete, inaugurado em 1924 em comemoração ao centenário da independência do Brasil, visando a melhoria do fluxo viário, intenso no local nos horários de pico e amenizar os congestionamentos diários, que se estendiam até a região da Lagoinha.
Corte dos Ficus da Avenida Afonso Pena em 1963.
Fonte: Acervo Estado de Minas
Nessa mesma década, após a criação da Ferrobel todas as terras delimitadas por uma extensa cerca que havia nas proximidades da Avenida Bandeirantes passaram a pertencer a essa Companhia, com a finalidade de expansão da exploração do minério de ferro ao longo dos anos, nos locais que havia tal rocha. Porém, em 1966 foi criado através de um Decreto o Parque das Mangabeiras nos terrenos onde a Ferrobel havia apenas iniciado a sua exploração.
Com o Decreto, a Companhia entregou a iniciativa privada os terrenos de sua propriedade que se localizavam abaixo da Mina das Mangabeiras, com a finalidade de se criar um grande loteamento visando às classes mais abastadas da capital, que nesse momento procuravam fugir da iminente congestão urbana da região central e bairros adjacentes, como o bairro de Lourdes.
Em 1967 visando melhorar a comunicação viária entre o recém-criado bairro Mangabeiras e a zona urbana da capital teve inicio a expansão da avenida, primeiro com o encascalhamento do prolongamento iniciado em 1940 e posteriormente da finalização e asfaltamento da avenida até a Praça da Bandeira, inaugurada em 1966 ou seja, bem antes do prolongamento da Avenida e a construção da Praça Milton Campos, inaugurada em 1972. Essas intervenções realizadas pelo Poder Público também tinham como objetivo a urbanização das terras ocupadas pelo Pindura Saia e Vila Santa Isabel, que foram fragmentadas e praticamente extintas no período entre 1968 e 1975. A extinção de grande parte do Pindura Saia permitiu a expansão do bairro Cruzeiro, a abertura de diversas ruas e a construção do Mercado do Cruzeiro em 1975. O prolongamento da Avenida Afonso Pena, assim como a sua porção inserida dentro da Avenida do Contorno apresentava uma função mista, com a presença, inclusive de prédios institucionais.
Praça do Cruzeiro em 1955.
Fonte: APCBH Coleção José Góes
O prolongamento de 1940 ocupado por barracos de madeira pertencentes ao Pindura Saia em 1966.
Fonte: APCBH/ASCOM
O Prefeito e autoridades visitam o prolongamento em 1966. Abaixo a "Catedral" que existia na Praça do Cruzeiro e demolida quando do inicio das obras.
Fonte: APCBH/ASCOM
Imagem aérea do ano de 1967 onde se vê na parte superior à esquerda o exato local do prolongamento da Avenida Afonso Pena até a Praça da Bandeira, concluída um ano antes desse registro. Na imagem ainda se vê parte das Favelas do Pindura Saia e do Pombal, além da Vila Santa Isabel e o córrego das Mangabeiras em seu leito natural. À direita o Clube Mineiro de Caçadores.
Fonte: APCBH
Obras de prolongamento da Avenida Afonso Pena em 66/68 até a Praça da Bandeira.
Fonte: APCBH Coleção José Góes
Inauguração da Praça da Bandeira em 1966. A inauguração se deu bem antes da conclusão do prolongamento da Avenida Afonso Pena, por motivos óbvios.
Fonte: APCBH/ASCOM
Inauguração da mesma Praça em 1966. Ao fundo a Serra do Curral.
Fonte: APCBH/ASCOM
A Avenida Afonso Pena em 1964, no cruzamento da Rua Professor Morais.
Fonte: APCBH/ASCOM
A Avenida após a conclusão das obras de prolongamento.
Fonte: APCBH/ASCOM
Parte do mesmo trecho em 1970. Ao fundo as obras de abertura da Avenida Agulhas Negras e mais ao fundo a Serra do Curral com o seu perfil alterado pela Mina das Mangabeiras.
Fonte: APCBH/ASCOM
A Avenida Afonso Pena antes e depois das obras de prolongamento da Avenida.
Fonte: APCBH/ASCOM
Praça Sete na década de 70.
Fonte: BH Nostalgia
A canalização das cabeceiras do córrego das Mangabeiras no período 68/72 permitiu o prolongamento da avenida acima da Praça da Bandeira, porém batizada como Avenida Agulhas Negras, que termina no sopé do paredão da Serra do Curral, onde se construiu o Hospital Hilton Rocha.
Atualmente a Avenida Afonso Pena continua exercendo o papel de principal eixo articulador da zona urbana inserida dentro da Avenida do Contorno. Com um pouco mais de quatro quilômetros de extensão ela continua sendo a Artéria responsável pelo recebimento dos fluxos viários de grande parte das zonas sul e oeste da capital e abriga ainda a Estação Rodoviária e a Praça Sete, principal marco simbólico da capital e marco do hipercentro.
O prolongamento finalizado na primeira metade da década de 70 alterou o plano inicial da avenida que transpôs a fronteira estabelecida pela CCNC e levou os equipamentos urbanos para as áreas antes ocupadas pelas primeiras Favelas da capital que foram praticamente extintas quando do seu prolongamento. A verticalização, expandida para os bairros que cresceram no seu entorno contribuíram, assim como os grandes edifícios existentes ao longo da avenida para o aumento da temperatura na região central, em particular a Praça Sete, que se apresenta como uma “ilha de calor” devido ao excesso de edifícios, intensa impermeabilização do solo e a vegetação escassa, praticamente resumida ao canteiro central da avenida³.
Apesar dos 115 anos e das transformações sofridas ao longo das décadas a Avenida Afonso Pena continua exercendo a função para a qual foi criada: a artéria principal, responsável pela ligação direta entre a parte mais baixa da capital, localizada na calha do Ribeirão Arrudas às partes mais altas, no sopé da Serra do Curral, atravessado toda a zona planejada e canalizando os fluxos provenientes dela, tanto populacional quanto viário. Sem duvida uma Avenida que apresenta grandes contrastes e diversidades ao longo de sua existência.
A Avenida Afonso Pena no ano de 2012 na região central.
Fonte: Foto do Autor
A Avenida vista desde a Praça Milton Campos.
Fonte: Foto do Autor
A Avenida vista da Serra do Curral, se destacando entre os edifícios da região central.
Fonte: Fernando Góes/Panoramio
O prolongamento em destaque na imagem de Satélite de 2008.
Fonte: Google Earth
A Avenida em destaque na imagem de Satélite do ano de 2008.
Fonte: Google Earth
* Extraído do Artigo "O Embrião Metropolitano: o Poder Público e a produção do espaço em Belo Horizonte na década de 1920" de minha autoria e da Engenheira Fernanda Guerra Lima Medeiros.
¹ Essas malhas formaram dezenas de “corta caminhos” dentro da zona urbana planejada. Nos engarrafamentos cotidianos de Belo Horizonte os atalhos formados, em alguns casos permitem uma maior mobilidade nos horários de pico, mesmo estando nos aproximando do “engarrafamento final”, quando, em um determinado horário ninguém irá à parte alguma, retidos no meio da congestão viária e da poluição resultante dos milhões de veículos individuais.
² O Morro do Cruzeiro tinha essa denominação devido a uma cruz de madeira que ai existiu, erguida pelos habitantes do Arraial no Século XIX.
³ Não se incluem ai o Parque Municipal e as partes mais altas da avenida que, apesar de estarem completamente urbanizadas ainda apresentam um clima mais ameno do que a Praça Sete, situada a uma altitude menor do que os bairros ao sul da avenida.