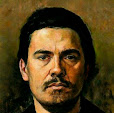A formação da Metrópole Industrial
Em 1950 Belo Horizonte já havia entrado no caminho para a metropolização, apresentando uma população de cerca de 352.000 habitantes. A industrialização iniciada na década de 40 na capital incentivou o aumento do fluxo migratório em direção a Belo Horizonte e o parcelamento do solo, que empurrou o crescimento urbano para todas as direções, principalmente as regiões norte e oeste devido ao seu relevo de menor declividade. Nessa década o adensamento na área central já chamava a atenção pela rapidez que se concretizava, incentivado pela verticalização, um fenômeno que se tornou incontrolável na década seguinte.
Esse crescimento urbano acentuou ainda mais os conhecidos problemas que a capital sofria havia décadas: os serviços básicos, onde se destaca o abastecimento de água e o transporte público que acompanhava precariamente a expansão urbana. Para tentar acompanhar o crescimento urbano foram inaugurados em 1952 os serviços de trolebus, ônibus movidos a eletricidade. A expansão urbana e a falta de investimentos nos serviços de Bondes tornavam o transporte cada vez mais obsoleto, restringindo-o a poucas linhas em comparação com o transporte feito por ônibus, extremamente deficiente ao comparar com o crescimento da malha urbana¹.






Em 1950 Belo Horizonte já se destacava no cenário nacional como uma dos mais importantes centros urbanos do país, mas ainda apresentava problemas de infra estrutura datados do inicio do Século, no que diz respeito ao abastecimento de água e de energia.
A criação da CEMIG em 1952 impulsionou o crescimento industrial, limitado até o inicio da década de 50 devido à pequena demanda energética, motivo que desde o inicio do Século atrasava o desenvolvimento industrial da capital. A Cidade Industrial, incorporada a Contagem em 1953 se consolidou nessa década, recebendo mais indústrias e criando vilas operarias para facilitar o deslocamento para as indústrias. Com energia elétrica abundante e sendo servido exclusivamente pelo Manancial da Catarina, construído exclusivamente para atender a sua demanda hídrica a Cidade Industrial do Ferrugem caminhava a passos largos.
Deve-se entender que o acentuado crescimento urbano que se verificou a partir de 1950 está estritamente ligado ao desenvolvimento industrial. Os anos 50 podem ser considerados de fato como a década da industrialização no Estado. Esse desenvolvimento da Cidade Industrial deu-se por três motivos cruciais: ao abastecimento de água, proveniente do manancial da Catarina, a regularização do fornecimento de energia, com a criação da CEMIG e com a abertura das rodovias ligando Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e a São Paulo, principais mercados consumidores do Brasil. A construção das rodovias beneficiou enormemente a capital e a partir da construção de Brasília Belo Horizonte ficou a meio caminho dela e passagem obrigatória de quem vinha do Rio de Janeiro.



Se o problema energético se encontrava resolvido, já com o abastecimento de água não era bem assim. Desde os primeiros anos da nova capital o abastecimento de água era deficitário em relação à demanda populacional e ao longo das décadas esse déficit só aumentou, mesmo com a captação sendo estendida para os mananciais do Mutuca no final dos anos 40 e dos Fechos em 1953, além dos córregos cujas nascentes se localizam nas vertentes da Serra do Rola Moça.
Na década de 50 o problema se agravou ainda mais, a ponto de faltar água na região central da capital em alguns horários do dia. Em muitas vilas mais distantes e nas favelas o abastecimento regular de água ainda era um sonho distante. Visando reverter esse caótico quadro a Municipalidade resolve adotar ao longo da década de 50 uma série de medidas visando normalizar o abastecimento.
Os cursos d’água começavam a apresentar os resultados do crescimento desenfreado de Belo horizonte. Os emissários de esgotos existentes haviam sido projetados dentro do contexto do período em que foram construídos, ou seja, uma cidade com residências de poucos andares, com uma população que crescia em ritmo lento, dentro de todo o contexto social e urbano da época.
A partir dos anos 50 o problema dos lançamentos dos esgotos in natura nos cursos d’água se agravou, devido principalmente a incapacidade dos emissários de receberem tantos resíduos, na sua maioria domésticos. Nesse período o Poder Público nada fez para ao menos resolver em parte esse problema, limitando-se apenas a executar obras de pequeno porte nas redes já existentes. E os cursos d’água, em particular o ribeirão Arrudas foram entrando em rota de colisão com a sociedade, que passou então a enxerga-los como um “problema”. Problema esse que seria “resolvido” nas décadas seguintes. Data desse período o saneamento do Parque Municipal, cujas águas poluídas do Córrego do Acaba Mundo desaguava nos lagos, tornando-os insalubres devido aos esgotos e detritos trazidos pelas águas.







A especulação imobiliária nessa década cresceu significativamente. Ela foi na verdade um prefácio dos anos 60, década em que inicia de fato a derrubada em massa de grande parte das primeiras construções da capital¹¹.
Outro edifício que não pode deixar de ser citado é o edifício Niemeyer, construído na Praça da Liberdade em 1954, no local onde existiu uma pequena residência construída nos primeiros anos da capital e o Colégio Estadual Central, construído na área ocupada anteriormente pelo Regimento de Cavalaria, transferida para o Prado Mineiro. Foi nessa década que se iniciou a construção do Conjunto JK, nos terrenos doados pelo então Governador Juscelino Kubitschek e pertencentes ao Governo. Projetados pelo Arquiteto Oscar Niemeyer para ser um espaço multifuncional as obras do Conjunto se arrastaram por mais de uma década, sendo entregue para uso residencial apenas no final dos anos 60. Os edifícios alteraram toda a paisagem da região central da capital, se destacando no espaço urbano belorizontino até os dias atuais.


Durante toda a década de 50 Belo Horizonte teve o lançamento de 22 novos loteamentos¹². Em comparação com a década anterior verifica-se que houve um decréscimo em relação aos anos 40, mesmo que muitos loteamentos já ocupados foram aprovados nessa década.
A primeira parte da década de 50 se destaca devido à grande aprovação de loteamentos, motivados pelo crescimento da Cidade Industrial. Foram aprovados 106 loteamentos num total de 79.000 lotes espalhados pela capital. Esse vertiginoso crescimento imobiliário é uma conseqüência da pressão exercida pelos construtores no Poder Municipal daquele período. Deve-se entender que a classe era um dos alicerces das campanhas eleitorais dos prefeitos após o Estado Novo que, ao serem eleitos atendia prontamente as demandas dos grupos aliados.
Na segunda metade houve um desaquecimento imobiliário motivado pela construção de Brasília, os fluxos migratórios se converteram para lá ate o inicio dos anos 60.








O primeiro Plano diretor de Belo Horizonte foi criado em Setembro de 1951 com o objetivo de regular, orientar e organizar o crescimento da capital. Para a sua elaboração foram convidados o urbanista Francisco Prestes Maia, o arquiteto Oscar Niemeyer e o paisagista Burle Max.
Na primeira metade da década o vertiginoso crescimento urbano dos últimos anos da década de 40 já gerava preocupações por parte da administração municipal, que com os recursos reduzidos via se obrigada a diminuir as obras decorrentes desse crescimento, fato que gerou muita discussão ao longo da década.
Definitivamente já havia consciência que a capital influenciava o crescimento dos municípios vizinhos, um centro de atração, um embrião da região metropolitana.














A disparidade entre os equipamentos urbanos necessários para a manutenção da cidade e o seu crescimento era visível e a falta de maiores investimentos por parte do Poder Público agravou ainda mais o problema, que perdurou por grande parte da década seguinte, quando a capital, que crescia sem nenhuma ordenação e em ritmo constante esteve à beira de um colapso, no que diz respeito aos serviços públicos e a infra estrutura urbana.

¹ A Epopéia do Transporte Público de Belo Horizonte é sem dúvida um capitulo a parte na história da capital e será abordado em artigos posteriores.
¹¹ Devo lembrar que Belo Horizonte sempre foi uma cidade em constante obra. É na verdade a contradição de todo o planejamento urbano: da cidade pensada, planejada e organizada ao crescimento desordenado que ocorreu a partir dessa década. Na verdade, desde os anos 20 Belo Horizonte é uma cidade de demolições e construções intermináveis.
¹² Plambel, O Processo de desenvolvimento de Belo Horizonte, 1897-1970.
¹³ Entre 1897 e 1946 o Governo do Estado era responsável pela nomeação dos Prefeitos de Belo Horizonte. Em contrapartida, o Estado dispunha uma verba para ser utilizada na infra-estrutura urbana da capital. Essa intervenção foi necessária nas primeiras décadas pois Belo Horizonte, inaugurada as pressas não dispunha de recursos para ter autonomia em relação ao Estado.
²¹ Não há a mínima necessidade de se comentar uma coisa dessas...
²² Muitos dos antigos moradores da Favela da Barroca formaram posteriormente a Vila dos Marmiteiros que foi durante muito tempo a maior Favela do Município de Belo Horizonte. Desse aglomerado existem atualmente pequenos núcleos ao longo da Avenida Tereza Cristina.